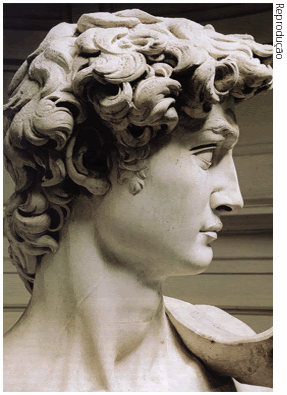«Depois da iniciação, o gosto de viajar sobrepôs-se ao desejo de me imaginar deambulando pelos quatro cantos do mundo, fitando páginas de atlas ou efabulando destinos a partir de imagens sugestivas. Bastava um fim-de-semana para reavivar velhas fantasias, e aproveitava tanto quanto podia o bem-estar oferecido por qualquer deslocação em torno do local onde assentasse arraiais.
É o puro prazer da exploração do desconhecido. Ainda hoje continua a não haver nada que se compare a ser andarilho por espaços que exaltam o desejo de querer estar sempre alhures. Não é só a vontade de conhecer e de saber mais sobre o mundo, mas sobretudo a insatisfação insuprível de nunca estar bem onde estou e de querer ir sempre mais além. É isto que me tem guiado e dado a conhecer raros sítios, bravas gentes e afamadas maravilhas.
Das viagens de comboio ficaram alguns sonhos por realizar, e ainda me ressinto dos muitos obstáculos em que fui tropeçando e que me impediram de concretizar a mirífica aventura por excelência, idealizada desde a juventude, de uma grande travessia transcontinental que me levaria à orla do Pacífico. Partindo de Lisboa, a viagem seguiria por Paris, Berlim, Varsóvia, Minsk e Moscovo, onde a magia do Transiberiano me faria antever, de olhos esbugalhados, as primeiras extensões asiáticas nas vastas paisagens da estepe e da taiga. Dali, a viagem prosseguiria por nomes de fábula e fantasia, como Nijni-Novgorode, os Montes Urais, Ecaterimburgo, Omsk, a infinita Sibéria, Krasnoiarsk, Novosibirsk, Irkutsk, no extremo sul do Lago Baical, e por fim Vladivostok. Muitos e muitos dias sobre infinitos carris. Chegado à beira do Pacífico, regressaria como calhasse, de Seul, Pequim ou Tóquio, donde quer que as contingências políticas do momento o permitissem. Seria indiferente. O importante seria ter concretizado o sonho da aventura e ter atingido a meta. Mas todos os planos fracassaram. E grandes desilusões também as houve, porém nunca a ponto de causarem danos irreparáveis. A face oculta do maravilhoso também existe e raramente é brilhante.

Ao fim de três ou quatro viagens sem companhia, deixei de sentir tanto a solidão. Sentia-a, sim, mas de uma forma mitigada. Foram viagens de formação que me fizeram conhecer gentes de muitos cantos da Europa que viajavam então como eu, graças a abençoadas bolsas de estudo. Éramos estudantes para quem o mundo se ia entreabrindo um pouco mais. Para alguns, como eu, chegava mesmo a escancarar-se de par em par. Passava uma boa parte do tempo livre sentado em cafés e esplanadas, a escrever minuciosos relatos quase diários do que me acontecia, do que ia aprendendo e a descrever tudo o que via e mais me impressionava. Receava que pudessem escapar para sempre pormenores mínimos mas preciosos que queria partilhar com aqueles de quem gostava e que não haviam tido a sorte ou a oportunidade de estar ali comigo. Lamentava que não pudessem usufruir daquelas maravilhas que, bem o sabia, apreciariam tanto ou mais do que eu.
Quando passei a custear do próprio bolso os meus gostos de viandante, por força de hábito continuei a partir sozinho. Salvo duas ou três viagens com amigos, que me agradaram pelo muito que descobrimos juntos e aprendemos uns com os outros, quase sem dar por isso fui continuando a seguir caminho sem me incomodar por aí além com a solidão. Sentia – e ainda sinto – essa ausência como uma severa restrição ao leque de possibilidades que qualquer viagem abre, mas não havia alternativa, e hoje, muitas vezes, continua a não haver. O hábito impôs-se e eu aceitei-o quase como apenas mais uma faceta de um destino inquestionado. Tenho dado comigo em Paris, Berlim ou Nova Iorque a imaginar o que este ou aquele amigo consideraria imprescindível visitar ou conhecer. E não raras vezes altero de cima a baixo os planos sempre maleáveis que, por isso mesmo, nunca chegam a ser planos mas apenas simples intenções mais ou menos esboçadas. Sei que aqueles lugares seriam outros e me diriam muito mais, se caminhasse por aquelas ruas com alguém ao lado trocando opiniões e comentários galhofeiros ao abrigo da incompreensão da língua, tirando disso o máximo partido, fazendo da viagem uma festa, uma paródia e atravessando os dias ao sabor dos impulsos do instante, que tornam o ofício de viandante muito mais misterioso, enriquecedor e empolgante. Não me vejo integrado em grupos de desconhecidos a calcorrear contra o relógio avenidas e praças, monumentos e museus, lojas e miradouros. Posso fazê-lo, se estiver nessa disposição ou se for condição necessária para uma visita que me interesse especialmente, mas quase sempre sigo ao sabor do momento e conforme os desejos me vão traçando o rumo. Umas vezes e nuns sítios, sou viajante; outras e noutros, sou turista, sem nunca me preocupar demais com o estatuto, embora prefira o de viajante pela maior liberdade que assegura.

Nestas andanças nunca me consegui reconciliar com os barcos. O desconforto marítimo mostrou-me, logo na primeira estadia a bordo, que nunca seria marinheiro. Para minha derrota indesmentível e definitiva, a constante talassia aliou-se a um terror irracional e irreprimível de saber haver sob os meus pés um imenso abismo de águas negras, que até então desconhecia me pudesse afectar. Sei nadar desde a infância, pelo que as razões de tanto pavor sempre me escaparam. Durante os poucos dias de navegação, não tive como dominar aquela obsessão nem como gozar de um só instante de sossego. Entre mim e o mar como caminho para o mundo surgiu uma insuperável fobia, qual barreira sólida que se ergueu firme e não tive meio de transpor ou derrubar. Foi um rude golpe no imaginário de um português nado e criado à beira-mar que, desde que se conhecia, sempre sonhara com a lonjura dos mares e aventuras vividas sobre as ondas. Foi breve e perturbadora a visão do horizonte rectilíneo entre céu e mar que – sempre assim pensara – viria culminar tantos anos de expectativas congeminadas a explorar um dos filões mais fecundos da cultura que se foi tornando a minha. Bastava ir à janela para tê-lo ali, diante dos meus olhos, e poder dar largas a fantasias de partidas para navegações prodigiosas e de regressos ao porto de abrigo com a alma lavada e repleta de mundo.
O maior desgosto, o mais difícil de superar, foi a descoberta de que a profunda paz de espírito, a tranquilidade, as sensações de liberdade absoluta, de infinito e de plenitude, que ao contemplá-lo sempre me haviam inundado, se ficavam por aí. A minha relação com o mar estava para sempre confinada ao sentido da visão que, ainda por cima, não era das melhores. Estava-me vedado o que tanto ansiara. Viver o mar. Doloroso foi também ter percebido que era o próprio mar que me rejeitava e não eu a ele, embora soubesse que o mal estava em mim, ao não conseguir abstrair-me daquelas insondáveis profundezas. Debaixo de qualquer coisa há sempre outra coisa qualquer, mas esta pode ser tão inacessível, medonha, escusa e escura que nos povoe o espírito dos pavores mais aflitivos que nenhum intelecto, racional e sereno, é capaz de expurgar. As lendas do mar tenebroso, de que o meu altaneiro positivismo se rira lautamente, já não eram lendas e haviam-se vingado. Eram uma realidade irracional que tive de aceitar com humildade.»
RIC